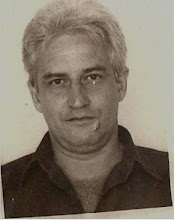Home
Up
Arqueologia e Bíblia
FINKELSTEIN, Israel & SILBERMAN, Neil Asher, The Bible Unearthed. Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts, New York, The Free Press, 2001, XII + 385 pp.
Israel Finkelstein, autor de importantes estudos no campo da arqueologia da Palestina, foi o Diretor do Instituto de Arqueologia Sonia e Marco Nadler da Universidade de Tel Aviv, Israel, de 1996 a 2002, e co-diretor das escavações de Tel Meguido. Atualmente, 2005, é o titular da Cátedra Jacob M. Alkow de Arqueologia de Israel nas Idades do Bronze e do Ferro da mesma Universidade, e acaba de ganhar o prêmio Dan David. Neil Asher Silberman é Diretor de Interpretação Histórica do "Ename Center for Public Archaeology and Heritage Presentation", na Bélgica.
Este envolvente livro, A Bíblia Desenterrada. Nova Visão da Arqueologia sobre o Antigo Israel e a Origem de seus Textos Sagrados (no Brasil: A Bíblia Não Tinha Razão, São Paulo, A Girafa, 2003), contém 12 capítulos agrupados em três partes, um epílogo, 7 apêndices - que retomam e aprofundam temas tratados ao longo do texto - uma bibliografia, um índice de nomes e lugares, além dos tradicionais prólogo e introdução. Donos de prosa refinada, os autores tomam cuidadosamente o leitor pela mão e o conduzem em aventura fascinante através do mundo do Antigo Israel.
Veja o índice do livro em inglês e português!
Mesmo antes do prólogo, nos agradecimentos feitos pelos autores àqueles que colaboraram na produção da obra, os autores já explicam a razão da publicação do livro.
O livro, dizem, foi pensado cerca de oito anos antes de sua publicação. E o motivo foi o debate sobre a historicidade da Bíblia, que então começava a atrair o público leigo. Os autores concluíram, ainda no começo da década de 90, que "um livro atualizado sobre este tema para os leitores em geral se fazia necessário" (p. V).
Finkelstein e Silberman observam que, nestes últimos anos, a controvérsia arqueológica sobre a questão bíblica cresceu muito, inclusive com acusações pessoais de motivações políticas inconfessáveis [os autores devem estar se referindo às possíveis implicações da pesquisa acadêmica para as reivindicações atuais de determinados grupos em Israel sobre o território palestino].
Houve um êxodo? Existiu uma conquista de Canaã? Davi e Salomão governaram um grande império? Questões como estas atraíram jornalistas, chegaram ao grande público e, ao ultrapassarem os círculos acadêmicos da arqueologia e da exegese bíblica, criaram polêmicos debates teológicos, resultando até em discussões sobre a crença religiosa deste ou daquele estudioso.
Por tudo isso é que declaram os autores: "Apesar das paixões suscitadas por este tema, nós acreditamos que uma reavaliação dos achados das escavações mais antigas e as contínuas descobertas feitas pelas novas escavações deixaram claro que os estudiosos devem agora abordar os problemas das origens bíblicas e da antiga sociedade israelita de uma nova perspectiva, completamente diferente da anterior" (pp. V-VI). Sua proposta no livro: apresentar evidências que sustentam esta afirmação e reconstruir uma história do antigo Israel bem diferente das habituais. Os autores deixam, finalmente, aos leitores, o julgamento de sua empreitada.
No Prólogo os autores propõem que o mundo em que a Bíblia nasceu foi o da Jerusalém da reforma do rei Josias no século VII AEC [antes da Era Comum, o mesmo que a.C.= antes de Cristo]. O núcleo histórico da Bíblia, pelo menos, nasceu nas ruas de Jerusalém, nos pátios do palácio real da dinastia davídica e no Templo do Deus de Israel, em parte de materiais tradicionais herdados, em parte de composições originais da época.
Nas palavras dos autores: "A saga histórica contida na Bíblia - do encontro de Abraão com Deus e sua jornada para Canaã, da libertação mosaica dos filhos de Israel da escravidão até a ascensão e queda dos reinos de Israel e Judá - não foi uma revelação miraculosa, mas um brilhante produto da imaginação humana. Ela foi concebida pela primeira vez - como as recentes descobertas arqueológicas sugerem - no espaço de duas ou três gerações, a cerca de dois mil e seiscentos anos atrás. Seu berço foi o reino de Judá, uma região escassamente povoada por pastores e agricultores, governada por uma isolada cidade real precariamente encravada no coração da região montanhosa sobre um estreito cume, entre profundos, rochosos desfiladeiros" (p. 1).
Uma cidade que pareceria extremamente modesta aos olhos de um observador moderno, com seus cerca de 15 mil habitantes, com bazares e casas amontoadas a oeste e sul de um modesto palácio real e seu Templo. Entretanto, no século VII AEC, esta cidade fervilhava com uma agitada população de oficiais reais, sacerdotes, profetas, refugiados e camponeses privados de suas terras. Uma cidade consciente de sua história, identidade, destino e relação direta com Deus.
Esta visão da antiga Jerusalém e das circunstâncias que deram origem à Bíblia, insistem os autores, é proveniente das recentes descobertas arqueológicas. Descobertas que "revolucionaram o estudo do Israel primitivo e lançaram sérias dúvidas sobre as bases históricas das tão famosas estórias bíblicas como as peregrinações dos patriarcas, o Êxodo do Egito, a conquista de Canaã e o glorioso império de Davi e Salomão" (p. 3).
É isto que os autores deste livro pretendem contar: "A estória do antigo Israel e o nascimento de suas escrituras sagradas a partir de uma nova perspectiva, uma perspectiva arqueológica" (p. 3). Os autores pretendem separar história de lenda. Enfim, declaram, seu propósito não é simplesmente desmontar conhecimentos ou crenças, mas partilhar as mais recentes percepções arqueológicas "não apenas sobre o quando, mas também sobre o porquê a Bíblia foi escrita, e porque ela permanece tão poderosa ainda hoje" (p. 3).
Na Introdução, pp. 4-24, sob o título A Arqueologia e a Bíblia, os autores nos informam que foram os estudos detalhados dos textos bíblicos e as pesquisas arqueológicas realizadas na Palestina nos dois últimos séculos que nos ajudaram a reconstruir a real história escondida atrás da Bíblia.
Em seguida, ao oferecerem algumas definições básicas do que é a Bíblia Hebraica [= Antigo Testamento] e explicar a sua estrutura - "O coração da Bíblia Hebraica é uma história épica que descreve o surgimento do povo de Israel e sua contínua relação com Deus" (p. 8) -, Finkelstein e Silberman dizem que este livro examina as principais obras 'históricas' da Bíblia, ou seja, a Torá [= Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio] e os Profetas Anteriores [= OHDtr - Obra Histórica Deuteronomista: Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis].
E explicam: "Nós comparamos esta narrativa com a riqueza dos dados arqueológicos que foram coletados nas últimas décadas. O resultado é a descoberta de uma relação complexa e fascinante entre o que realmente aconteceu na terra da Bíblia durante o período bíblico (...) e os conhecidos detalhes da elaborada narrativa histórica contida na Bíblia Hebraica" (p. 8).
Após esboçarem a história da pesquisa do Pentateuco e da OHDtr, os autores continuam definindo, em gradual aproximação, a sua perspectiva que é: a arqueologia oferece hoje evidência suficiente para que se sustente uma nova proposta. Proposta que diz ter sido o núcleo histórico do Pentateuco e da OHDtr modelado no século VII AEC.
"Nós focalizaremos o Judá do final do século VIII e do século VII AEC, quando este processo literário começou para valer, e argumentaremos que a maior parte do Pentateuco é uma criação da monarquia recente, elaborado em defesa da ideologia e necessidades do reino de Judá, e, como tal, está intimamente associado à História Deuteronomista. E nos alinharemos com aqueles estudiosos que argumentam que a História Deuteronomista foi compilada, principalmente, no tempo do rei Josias [640-609 AEC], para oferecer uma legitimação ideológica para ambições políticas e reformas religiosas específicas" (p. 14).
Finalmente, depois de brevemente resenhar a história da arqueologia da Palestina, Finkelstein e Silberman concluem, na p. 23, que "a maior parte daquilo que é normalmente considerado como história acurada (...) são, na verdade, as criativas expressões de um poderoso movimento de reforma religiosa que floresceu no reino de Judá na Idade Recente do Ferro".
Isto não implica, para os autores, que o antigo Israel não tenha uma história genuína, nem que os relatos bíblicos devam ser descartados, mas que, amparados pelos achados arqueológicos e pelos testemunhos extrabíblicos, se verá como as narrativas bíblicas são, elas mesmas, parte da estória, e não o inquestionável quadro histórico dentro do qual deveriam se encaixar cada achado arqueológico ou conclusão da pesquisa.
A Bíblia é, nesta perspectiva, um artefato específico que, juntamente com a cerâmica, a arquitetura e as inscrições, nos ajuda a compreender a sociedade na qual ela foi produzida.
"Nossa estória se afastará dramaticamente da familiar narrativa bíblica. Será a estória não de um, mas de dois reinos escolhidos, que juntos contêm as raízes históricas do povo de Israel", concluem os autores ao término da Introdução, na p. 23.
A Primeira Parte do livro - A Bíblia como História? - tem cinco capítulos, que tratam, respectivamente, dos patriarcas (pp. 27-47), do êxodo (pp. 48-71), da conquista de Canaã (pp. 72-96), da identidade dos israelitas (pp. 97-122) e da monarquia sob Davi/Salomão (pp. 123-145).
No capítulo sobre os patriarcas, após sintetizarem as tradições bíblicas sobre estas figuras, os autores se perguntam: reais ou fictícias?
Para responder a isso, eles explicam as razões da busca dos estudiosos pelos patriarcas, nos últimos séculos, e como a historiografia bíblica ficou convencida de sua historicidade. Entre os nomes mais conhecidos estão, por exemplo, Albright, De Vaux, Speiser, Gordon e Benjamin Mazar.
Entretanto, lembram os autores, um acordo nunca foi alcançado, especialmente na questão da datação dos patriarcas. E questionam: onde está o erro desta busca? O erro está em que todos eles acreditavam que a época patriarcal deveria ser vista, de qualquer modo, como a primeira fase de uma história seqüencial de Israel, concluem na p. 36. E se esta seqüência - patriarcas, êxodo, conquista, monarquia unida, reinos divididos, exílio etc - não for considerada?
Em seguida, os autores expõem a posição de especialistas que, analisando de modo diferente as tradições, não acreditam na historicidade dos patriarcas. Destacam Wellhausen, Van Seters e Thomas L. Thompson, todos mostrando que as narrativas são compilações bem recentes. E, mais uma vez, perguntas: mas estas compilações teriam ocorrido quando?
Buscando na arqueologia as respostas, Finkelstein e Silberman mostram as inconsistências existentes nas tradições patriarcais. E defendem que detalhes como a presença impossível de camelos e filisteus no mundo patriarcal são 'anacronismos' a serem seriamente considerados, pois não são inserções posteriores em narrativas antigas, mas indícios de que as narrativas são bem mais recentes do que alguns estudiosos pensavam. E tudo aponta para os séculos VIII/VII AEC, concluem na p. 38, quando estes elementos não eram, de modo algum, anacrônicos.
E é a partir desse pressuposto que os autores vão mostrar como o exame das genealogias e dos costumes patriarcais "oferecem um colorido mapa humano do Antigo Oriente Médio de um inquestionável ponto de vista dos reinos de Israel e Judá nos séculos oitavo e sétimo AEC. Estas estórias oferecem um comentário altamente sofisticado dos negócios políticos nesta região nos períodos assírio e neo-babilônico", dizem nas pp. 38-39.
Finkelstein e Silberman consideram que a caracterização de muitos termos e nomes de lugares das tradições patriarcais combinam perfeitamente com a relação de Israel e Judá com os reinos e povos vizinhos desta época. Para demonstrar isto, tratam dos arameus, de Amon e Moab, Edom, dos descendentes de Ismael e de nomes de lugares mencionados em Gn 14 e outros textos.
Na seqüência, os autores lembram a posição de M. Noth de que os patriarcas seriam originariamente ancestrais isolados que foram agrupados como uma família para criar uma história unificada. E mostram, então, nesta perspectiva, que a escolha de Abraão e sua ligação com Hebron e Jerusalém (Salém em Gn 14,18), cidades reais davídicas, foi feita para enfatizar a primazia de Judá. Escolha esta feita nos séculos VIII/VII AEC, mas retroprojetadas para o começo, para legitimar Judá como projeto divino. "Então, a idéia pan-israelita, com Judá no centro, nasceu", sentenciam na p. 44.
Concluem, assim, Finkelstein e Silberman a questão patriarcal: as narrativas patriarcais são provavelmente, baseadas em antigas tradições locais, mas "a ordem em que elas foram agrupadas as transformam em uma poderosa expressão dos sonhos judaítas do século sétimo" (p. 45). Por isso, as tradições patriarcais devem ser lidas como uma espécie de piedosa 'pré-história' de Israel, na qual Judá exerce um papel decisivo. Sob tal perspectiva, devemos considerar a versão javista (J) das narrativas patriarcais como uma tentativa de redefinir a unidade do povo de Israel, muito mais do que a recuperação de vidas de personagens que teriam vivido um milênio antes.
Finkelstein e Silberman consideram, finalmente, que a grande genialidade dos criadores deste épico nacional do século sétimo AEC foi ter transformado os filhos de Abraão, Isaac e Jacó numa grande família, unidos pelo poder da lenda, muito mais forte do que poderiam ser tênues lembranças de alguns indivíduos nômades perambulando pelas montanhas de Canaã.
No capítulo sobre o êxodo, os autores fazem quatro perguntas: O êxodo tem credibilidade histórica? A arqueologia pode ajudar a reconstruí-lo? É possível traçar a rota do êxodo? O êxodo aconteceu como descrito na Bíblia?
Após uma síntese da narrativa bíblica, Finkelstein e Silberman confirmam que as migrações de Canaã para o Egito são bem documentadas pela arqueologia e por textos da época. Para muitos habitantes de Canaã, região periodicamente sujeita a severas secas, a única saída era ir para o Egito. Pinturas e textos egípcios testemunham a presença de semitas no delta do Nilo ao longo das Idades do Bronze e do Ferro.
Por outro lado, há intrigantes paralelos entre a história bíblica de José e o êxodo e a história egípcia escrita por Maneton, sobre a invasão do Egito pelos hicsos e sua posterior expulsão após um século. "Invasão" que escavações arqueológicas recentes revelaram ter sido muito mais uma ocupação cananéia gradual e pacífica do delta do que uma operação militar. "As descobertas feitas em Tell ed-Daba [a antiga Avaris, capital dos hicsos] constituem evidência de um longo e gradual desenvolvimento da presença cananéia no delta e um controle pacífico da região", concluem na p. 55.
Estes paralelismos entre a história bíblica de José e a história egípcia dos hicsos indicam a possibilidade do êxodo. Entretanto, duas questões permanecem: Quem eram este imigrantes semitas? E será que a data de sua permanência no Egito [1670-1570 AEC] combina com a cronologia bíblica?
A Bíblia colocou o êxodo em torno de 1440 AEC, data que se obtém pela comparação de dados bíblicos com fontes extrabíblicas. Entretanto, esta data não coincide com a expulsão dos hicsos. Por isto, muitos estudiosos consideram-na simbólica apenas, e datam o êxodo no século XIII AEC, na época de Ramsés II, fundados em testemunhos egípcios indiretos, como a construção da cidade de Pi-Ramsés no delta, na qual trabalharam semitas, e na estela de Merneptah, filho e sucessor de Ramsés II, que fala da presença de uma entidade de nome 'Israel' presente em Canaã, no final do século XIII AEC.
Mas quem eram estes semitas presentes no Egito na construção de cidades e que 'Israel' é este da estela de Merneptah? Ainda não há respostas definitivas para estas perguntas. E mais: um êxodo em massa teria sido possível na época de Ramsés II?
O que se sabe é que não existe nas fontes egípcias da época menção alguma da presença de israelitas no Egito. Nem ligados aos hicsos (séculos XVII-XVI AEC), nem aos grupos cananeus mencionados nas Cartas de Tell el-Amarna (século XIV AEC), nem a um fuga para Canaã (século XIII AEC).
Trabalhando a partir desta lógica, Finkelstein e Silberman vão concluir pela impossibilidade do êxodo no século XIII AEC. Entre outras coisas, eles alegam que, nesta época, a fronteira do Egito com Canaã era severamente controlada, como a arqueologia comprovou na década de 70; que não existe nenhum sinal de ocupação do Sinai na época de Ramsés II ou predecessores imediatos; que não existe sinal do êxodo em Kadesh-Barnea ou Ezion-Geber, nem nos outros lugares mencionados na narrativa do êxodo, como Tel Arad, Tel Hesbon ou Edom. Convém considerar, também, que as narrativas bíblicas do êxodo jamais mencionam o nome do faraó que os israelitas enfrentaram.
E concluem: "Os locais mencionados na narrativa do êxodo são reais. Alguns eram bem conhecidos e aparentemente estavam ocupados em épocas mais antigas e em épocas mais recentes - após o estabelecimento do reino de Judá, quando a narrativa bíblica foi pela primeira vez escrita. Infelizmente, para os defensores da historicidade do êxodo, estes locais estavam desocupados exatamente na época em que aparentemente eles exerceram algum papel nas andanças dos israelitas pelo deserto" (p. 64).
E é então que se verifica estarem as condições do sétimo século AEC, época da escrita, bem mais presentes na estória do êxodo, do que uma realidade do século XIII AEC. E aqui Finkelstein e Silberman vão adotar a tese do egiptólogo Donald B. REDFORD, exposta no livro Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times, Princeton University Press, Princeton, 1992.
Falando de maneira muito simplificada, a proposta é a seguinte: a memória da invasão e expulsão dos hicsos foi incorporada em Canaã como uma memória de confronto, vitória e libertação. Israel, ao surgir de Canaã, será o herdeiro dessa memória. Quando, no século VII AEC, Psamético I, faraó do Egito e Josias, rei de Judá tentam ocupar o espaço deixado pela Assíria na região da Palestina, e se confrontam - Josias será vencido por Necao II, filho de Psamético I -, esta memória serve de pano de fundo para a narrativa do êxodo. Êxodo impossível na época de Ramsés II, mas um paradigma de resistência na luta de Josias para reunificar o grande Israel.
Para finalizar: "A saga do êxodo de Israel do Egito não é uma verdade histórica, nem uma ficção literária. Ela é uma poderosa expressão de memória e esperança nascida em um mundo em transformação. O confronto entre Moisés e o faraó espelha o crucial confronto entre o jovem rei Josias e o recém-coroado faraó Necao. Fixar esta imagem bíblica em uma data anterior é subtrair da estória seu mais profundo significado. A Páscoa se revela, assim, não como um simples evento, mas como uma experiência contínua de resistência nacional contra os poderes estabelecidos" (pp.70-71).
No capítulo sobre a conquista de Canaã, a questão básica é: história ou mito? Para responder a isto, os autores, após resumir a saga bíblica da conquista narrada no livro de Josué, dizem que as Cartas de Tell el-Amarna, do século XIV AEC, mostram um Canaã bem diferente daquele de Josué, ou seja, como uma província egípcia, governada por fracos chefes nas cidades. Realidade que a arqueologia confirma, ao escavar cidades pequenas e fracas, algumas abandonadas ou diminuídas em população e povoados sem muralhas.
E no século XIII AEC? Não temos dados como os das Cartas de Tell el-Amarna, mas o forte governo de Ramsés II estava presente em Canaã, como se pode ver na fortaleza egípcia de Bet-Shean e em Meguido, do que os autores deduzem que os egípcios em Canaã não ficariam indiferentes a uma destruição tal como a de Josué.
Após repassar a arqueologia da conquista - quer dizer, os defensores da versão de Josué - na primeira metade do século XX, com as escavações de Albright em Tell Beit Mirsim/Debir (1926-1932), dos britânicos em Tell ed-Duweir/Lakish (1930ss) e do israelense Yigael Yadin em Tell el-Waqqas/Hasor (1956), Finkelstein e Silberman explicam como a euforia desta teoria entrou em crise com as pesquisas de Jericó, Ai, Gabaon e outras cidades que nem existiam no século XIII AEC, fazendo cair o consenso sobre a conquista de Canaã.
Em seguida, alertam que, para se compreender Canaã, é preciso olharmos o Mundo Mediterrâneo como um todo no século XIII AEC. E aí apontam transformações dramáticas, tais como o grandioso Egito de Ramsés II que se enfrenta com o império de Hatti na batalha de Cades, levando ao tratado egípcio-hitita; o mundo de Micenas; Chipre...
E, então, por volta de 1130 AEC o grande 'terremoto' da migração dos Povos do Mar, a sua tentativa de invasão do Egito na época de Ramsés III, a presença dos filisteus em Ashdod e Ekron, a destruição de outras cidades cananéias como Hasor, Afek, Lakish e Meguido, destruição lenta e gradual, concluindo que não pode ter sido Josué o destruidor destas cidades.
Lembram também os autores como a escola alemã de Alt e Noth já mostrava, antes da atual posição da arqueologia, a inconsistência de uma conquista, tal como narrada em Josué, e a maior coerência da narrativa de Jz 1. Para concluir disto o seguinte: o livro de Josué pode trazer, sim, memórias populares e lendas sobre esta época de profundas transformações, mas o que deve ter sido uma destruição caótica provocada por diferentes fatores e grupos diversos, ficou na tradição como uma poderosa saga de uma brilhante conquista territorial comandada pelas bênçãos divinas.
Ainda: a lista de cidades de Js 15,21-22 corresponde às fronteiras do reino de Judá na época de Josias. E algumas localidades estiveram habitadas somente nas décadas finais do século VII AEC. Assim, o que a OHDtr narra das batalhas de Josué cabe melhor na época de Josias, como o caso de Jericó, Ai (na região de Betel), o caso dos gabaonitas, a conquista da Shefelá e a conquista do norte, especialmente Hasor.
Donde os autores concluem que as conquistas de Josué são uma 'mascara' para as conquistas de Josias: e isto está bem entranhado na OHDtr, onde os paralelismos entre as figuras de Josué e Josias não são apenas convencionais, mas "paralelismos diretos na linguagem e na ideologia - além dos idênticos objetivos de conquista dos dois personagens" (p. 85).
No capítulo sobre a identidade dos israelitas, a questão é: se, como a arqueologia sugere, as sagas dos patriarcas e do êxodo são lendárias, compostas em épocas bem mais recentes, e se não houve uma conquista unificada de Canaã sob o comando de Josué, quem é este Israel que reivindica uma identidade nacional desde tempos antigos?
Ora, "a arqueologia, surpreendentemente, nos revela que este povo que vivia nestes povoados, eram habitantes nativos de Canaã que somente gradualmente desenvolveram uma identidade étnica que poderia ser chamada de israelita", dizem os autores na p. 98.
Após repassarem uma síntese bíblica da divisão do território entre as tribos, segundo o livro de Josué, e as lutas do livro dos Juízes, mais questões são colocadas por Finkelstein e Silberman: a Bíblia está narrando algo que realmente aconteceu? Cultuava Israel um só Deus, mas caía, às vezes, no politeísmo? Como viviam estes israelitas no seu cotidiano? Sabemos de suas fronteiras e batalhas, mas como eram os assentamentos e como se sustentavam? Como nômades do deserto aprenderam a ser agricultores tão rapidamente?
Em seguida, os autores falam do 'Israel' citado na estela de Merneptah no final do século XIII AEC, da diferença entre as culturas cananéia e a dos invasores 'seminômades' percebida pelos arqueólogos, da teoria da infiltração pacífica de A. Alt e dos testemunhos egípcios sobre os apiru e os shoshu. Criticam, por um lado, a teoria da infiltração pacífica e, por outro, a proposta da revolta camponesa de Mendenhall e Gottwald, esta última, pela falta de suporte arqueológico, para chegar onde sempre chegam: a resposta às questões colocadas deve ser buscada na arqueologia.
Mas, dizem Finkelstein e Silberman, os arqueólogos até os anos 60 procuravam Israel nos lugares errados, nos grandes sítios das maiores cidades cananéias. E isto porque acreditavam em Josué. A exceção foi Y. Aharoni que fez escavações na Alta Galiléia. Entretanto, lembram, desde os anos 40 os arqueólogos já reconheciam a necessidade da pesquisa de uma região e não apenas de uma localidade.
E, então, a partir de 1967, os territórios das tribos de Judá, Benjamin, Efraim e Manassés foram intensivamente pesquisados, revolucionando o estudo do antigo Israel, pois uma densa rede de povoados montanheses foi descoberta: cerca de 250 comunidades habitando as colinas apareceram. "Aqui estavam os primeiros israelitas", comemoram os autores na p. 107.
Como assim? Neste ponto do capítulo, eles passam a descrever as características de um típico povoado da Idade do Ferro I, oferecendo inclusive desenhos ilustrativos e afirmando que a população de todos estes povoados por volta do ano 1000 AEC não ultrapassava em muito as 45 mil pessoas. Descrevem o modo de vida nos povoados, usando como exemplo Izbet Sartah que foi bem pesquisado.
Disto concluem: a principal luta dos primeiros israelitas não era com outros povos, mas com as duras condições da natureza onde viviam. E parece que viviam em relativa paz e com uma economia auto-suficiente, isolados das principais rotas comerciais da região e razoavelmente distantes uns dos outros, não havendo sinais de comércio entre os povoados. "Por isso, não nos surpreende que inexistam evidências de significativa estratificação social nestes povoados, nenhum sinal de edifícios administrativos, nem grandes residências de dignitários ou produtos especializados de hábeis artesãos", dizem os autores na p. 110.
Entretanto, uma pergunta permanece: de onde eles vieram? Ora,a partir da pesquisa de Izbet Sartah, que preservou bastante bem suas estruturas originais, pode-se acompanhar a evolução dos povoados. E tudo indica que uma grande parte dos primeiros israelitas veio do meio pastoril. Pastores nômades, mas que estavam passando por profundas transformações, tornando-se, gradualmente, agricultores.
Outra coisa interessante que a arqueologia mostra também é que esta transformação no século XII AEC não foi nem a primeira, nem a única: duas outras ondas de ocupação da região montanhosa de Canaã ocorreram antes.
A primeira onda foi na Idade do Bronze Antigo, por volta de 3500 AEC, com cerca de 100 povoados e pequenas cidades, acontecendo o abandono da maior parte das povoações nas montanhas por volta de 2200 AEC. A segunda onda ocorreu na Idade do Bronze Médio, por volta de 2000 AEC, com cerca de 220 assentamentos, que iam desde povoados até cidades e centros regionais fortificados, chegando a população a um total de 40 mil pessoas. Esta onda terminou no século XVI AEC.
A terceira onda, a dos assentamentos israelitas, ocorreu por volta de 1200 AEC, com uma população de aproximadamente 45 mil habitantes em cerca de 250 localidades. O ápice desta ocupação foi no século VIII AEC, após a constituição dos reinos de Judá e de Israel, com cerca de 500 localidades e uma população de aproximadamente 160 mil habitantes.
Agora, uma questão interessante é colocada pelos autores: existe algum padrão nestas três ocupações? Existe, sim, respondem. A parte norte da região montanhosa sempre foi mais populosa do que a parte sul; cada onda de crescimento demográfico parece ter começado no leste e se expandido para o oeste; as três ondas possuem uma cultura material comum (na cerâmica, na arquitetura e na estrutura dos povoados), resultado provável de condições ambientais e econômicas semelhantes.
Interessante, porém, é o que a arqueologia revelou ao escavar ossos de animais: nos períodos entre estas ondas de ocupação não acontecia um abandono da região, mas uma mudança de atividade: da agricultura e criação de gado para o pastoreio. Este, aliás, parece ter sido, ao longo dos séculos, um comportamento típico das populações da região: em períodos de intenso povoamento, há maior dedicação à agricultura, enquanto que, nos períodos de crise, as pessoas praticam mais o pastoreio, o que lhes dá maior mobilidade.
E isto tem importância para a identificação dos primeiros israelitas? Tem. O que se observa é que agricultores e pastores nômades sempre tiveram uma relação de interdependência nas sociedades do Antigo Oriente Médio, complementando-se na troca de seus produtos. Entretanto, esta troca não é inteiramente equilibrada, pois os habitantes dos povoados podem sobreviver apenas com seus próprios produtos, o mesmo não acontecendo com os pastores nômades: eles precisam de grãos para complementar sua dieta, totalmente dependente do rebanho. E assim, quando não há povoados com os quais comerciar, eles são obrigados a produzir, eles mesmos, seus grãos. Aparentemente, foi isto o que aconteceu no século XII AEC, quando teria ocorrido a ausência do controle egípcio sobre Canaã e a economia da região entrou em colapso.
Assim concluem os autores na p. 118: “O processo que nós descrevemos aqui é, na verdade, o oposto daquele que temos na Bíblia: a emergência do Israel primitivo foi uma conseqüência do colapso da cultura cananéia, não a sua causa. E a maior parte dos israelitas não veio de fora de Canaã – eles emergiram de dentro desta terra. Não ocorreu um êxodo em massa do Egito. Não houve uma conquista violenta de Canaã. A maior parte das pessoas que formaram o primitivo Israel eram moradores locais – as mesmas pessoas que vemos nas montanhas nas Idades do Bronze e do Ferro. Os israelitas primitivos eram – ironia das ironias – eles mesmos originariamente cananeus!"
O mesmo processo poderia ser, segundo os autores, testemunhado na Transjordânia, com populações locais formando os povos de Amon, Moab e Edom.
Finalmente, terminam Finkelstein e Silberman este capítulo com duas especulações: os israelitas, já nas suas origens, não consumiam carne de porco - não se sabe a razão -, não tendo sido encontrados ossos deste animal nos povoados das montanhas, e isto seria sua marca distintiva; e o livro dos Juízes, parte da OHDtr, reflete, não as lutas dos primeiros tempos de Israel, mas a época de Josias, quando este, controlando o antigo território do reino de Israel e centralizando o culto em Jerusalém, quebrou o círculo vicioso de apostasia e desastre que atingia periodicamente Israel.
De minha parte, considero a especulação sobre a ausência de consumo da carne de porco como elemento distintivo dos israelitas primitivos especialmente frágil...
No capítulo sobre a monarquia davídico-salomônica, os autores lembram como, para os leitores da Bíblia, Davi e Salomão representam uma idade de ouro, enquanto que para os estudiosos representavam, até recentemente, o primeiro período bíblico realmente histórico. Hoje, a crise se abateu sobre o "império" davídico-salomônico. E se perguntam: Davi e Salomão existiram?
Mostram como os minimalistas dizem: "não", os argumentos pró e contra a postura dos minimalistas, para chegarem à questão chave: o que diz a arqueologia sobre Davi/Salomão?
Para Finkelstein e Silberman a evolução dos primeiros assentamentos para modestos reinos é um processo possível e até necessário na região. Descrevendo as características do território de Judá, concluem que este permaneceu pouco desenvolvido, escassamente habitado e isolado no período atribuído pela Bíblia a Davi/Salomão: é o que a arqueologia descobriu.
E Jerusalém? As escavações de Yigal Shiloh, da Universidade Hebraica de Jerusalém, nas décadas de 70 e 80, na Jerusalém das Idades do Bronze e do Ferro mostram que não há nenhuma evidência de uma ocupação no século X AEC. A postura mais otimista aponta para um vilarejo no século décimo, enquanto que o resto de Judá, na mesma época seria composto por cerca de 20 pequenos povoados e poucos milhares de habitantes, tendo havido, portanto, dificilmente, um grande império davídico.
Mas e as conquistas davídicas? Até recentemente, em qualquer lugar em que se encontravam cidades destruídas por volta do ano 1000 AEC isto era atribuído a Davi por causa das narrativas de Samuel. Teoricamente é possível que os israelitas da região montanhosa tenham controlado pequenas cidades filistéias como Tel Qasile, escavada por Benjamin Mazar em 1948-1950, ou até mesmo cidades cananéias maiores como Gezer, Meguido ou Bet-Shean. Mas será que o fizeram?
E o glorioso reino de Salomão? Em Jerusalém, nada foi encontrado, mas e Meguido, Hasor e Gezer? Em Meguido, P. L. O. Guy, da Universidade de Chicago, descobriu, nas décadas de 20 e 30, os "estábulos" de Salomão. Sua interpretação dos edifícios achados se baseou em 1Rs 7,12;9,15.19. Na década de 50, Yigael Yadin descobriu, ou identificou nas descobertas de outros, as "portas salomônicas" de Hasor, Gezer e Meguido. Também a chave aqui foi 1Rs 9,15, que diz: "Eis o que se refere à corvéia que o rei Salomão organizou para construir o Templo de Iahweh, seu palácio, o Melo e o muro de Jerusalém, bem como Hasor, Meguido, Gazer [=Gezer]".
Mas, na década de 60, Y. Yadin escava novamente Meguido e faz a descoberta de um belo palácio que parecia ligado à porta da cidade e abaixo dos "estábulos", o que o leva à seguinte conclusão : os palácios [a Universidade de Chicago encontrara outro antes] e a porta de Meguido são salomônicas, enquanto que os "estábulos" seriam da época de Acab, rei de Israel do norte no século IX AEC.
Durante muitos anos, estas "portas salomônicas" de Hasor, Gezer e Meguido foram o mais poderoso suporte arqueológico ao texto bíblico. Mas o modelo arquitetônico dos palácios salomônicos veio dos palácios bit hilani da Síria, e estes, se descobriu, só aparecem no século IX AEC, pelo menos meio século após a época de Salomão. "Como poderiam os arquitetos de Salomão ter adotado um estilo arquitetônico que ainda não existia?", se perguntam os autores na p. 140. E o contraste entre Meguido e Jerusalém? Como um rei constrói fabulosos palácios em uma cidade provincial e governa a partir de um modesto povoado?
Pois bem, dizem Finkelstein e Silberman na p. 140: "Agora nós sabemos que a evidência arqueológica para a grande extensão das conquistas davídicas e para a grandiosidade do reino salomônico foi o resultado de datações equivocadas".
Dois tipos de evidência fundavam os argumentos em favor de Davi e Salomão: o fim da típica cerâmica filistéia por volta de 1000 AEC fundamentava as conquistas davídicas; e as construções das monumentais portas e palácios de Hasor, Gezer e Meguido testemunhavam o reino de Salomão. Nós últimos anos, entretanto, estas evidências começaram a desabar [aqui os autores remetem o leitor ao Apêndice D, pp. 340-344, onde os seus argumentos são mais detalhados].
Primeiro, a cerâmica filistéia continua após Davi e não serve mais para datar suas conquistas; segundo, os estilos arquitetônicos e as cerâmicas de Hasor, Gezer e Meguido atribuídos à época salomônica são, de fato, do século IX AEC; e, por último, testes com o Carbono 14 em Meguido e outras localidades apontam para datas da metade do século IX AEC.
Enfim: a arqueologia mostra hoje que é preciso "abaixar" as datas em cerca de um século [anoto aqui que esta "cronologia baixa" de Finkelstein tem dado muito o que falar nos meios acadêmicos!]. O que se atribuía ao século XI é da metade do século X e o que era datado na época de Salomão deve ser visto como pertencendo ao século IX AEC.
Dizem os autores: "Não há razões para duvidarmos da historicidade de Davi e Salomão. Há, sim, muitos motivos para questionarmos as dimensões e o esplendor de seus reinos. Mas, e se não existiu um grande império, nem monumentos, nem uma magnífica capital, qual era a natureza do reino de Davi?" (p. 142).
O quadro é o seguinte: região rural... nenhum documento escrito... nenhum sinal de uma estrutura cultural necessária em uma monarquia... do ponto de visto demográfico, de Jerusalém para o norte, povoamento mais denso; de Jerusalém para o sul, mais escasso... estimativa populacional: dos 45 mil habitantes da região montanhosa, cerca de 40 mil habitariam os povoados do norte e apenas 5 mil se distribuíam entre Jerusalém, Hebron e mais uns 20 pequenos povoados de Judá, com grupos continuando o pastoreio...
Davi e seus descendentes? "No século décimo, pelo menos, seu governo não possuía nenhum império, nem cidades com palácios, nem uma espetacular capital. Arqueologicamente, de Davi e Salomão só podemos dizer que eles existiram - e que sua lenda perdurou" (p. 143).
Entretanto, quando o Deuteronomista escreveu sua obra no século VII AEC, Jerusalém tinha todas as estruturas de uma sofisticada capital monárquica. Então, o ambiente desta época é que serviu de pano de fundo para a narrativa de uma mítica idade de ouro. Uma bem elaborada teologia ligava Josias e o destino de todo o povo de Israel à herança davídica: ele unificara o território, acabara com o ciclo idolátrico da época dos Juízes e concretizara a promessa feita a Abraão de um vasto e poderoso reino. Josias era o novo Davi e Iahweh cumprira suas promessas "O que o historiador deuteronomista queria dizer é simples e forte: existe ainda uma maneira de reconquistar a glória do passado" (p. 144).
A Segunda Parte do livro - A Ascensão e Queda do Antigo Israel - tem três capítulos, que tratam, respectivamente, do surgimento do reino de Israel (pp. 149-168), da dinastia de Omri (pp. 169-195) e do domínio assírio sobre Israel (pp. 196-225).
No capítulo sobre o surgimento do reino de Israel, os autores começam lembrando o relato bíblico sobre a rebelião do norte, onde Judá e Simeão aparecem em forte contraste com o condenável comportamento das 10 tribos do norte.
Este esquema bíblico, de uma monarquia unida, que se desintegra após a morte de Salomão, sempre foi aceito por arqueólogos e historiadores, mas está errado. Não há evidências de uma monarquia unida governada por Jerusalém, mas há boas razões para se acreditar que sempre houve duas diferentes entidades políticas na região montanhosa de Canaã, garantem os autores.
A pesquisa arqueológica nos anos 80 retrata uma situação bem diferente do relato bíblico. Em cada uma das ondas de ocupação das montanhas (Idade Antiga do Bronze: 3500-2200; Idade Média do Bronze: 2000-1550 AEC) sempre aparecem duas sociedades distintas, norte e sul, assim como no Ferro I (1150-900 AEC) existe a distinção entre Israel e Judá. A região norte sempre aparece mais povoada, com uma complexa hierarquia de grandes, médios e pequenos sítios arqueológicos e sempre mais fortemente ligada à agricultura. A região sul sempre aparece como mais escassamente povoada, com pequenos sítios arqueológicos e uma população de grupos nômades mais significativa.
No Bronze Antigo dois únicos centros se destacam em Canaã: no sul, Khirbet et-Tell (Ai) e no norte Tell el-Farah (Tirsá). No Bronze Médio, dois centros se destacam no sul, Jerusalém e Hebron, e um centro no norte, Siquém. Além destas pistas arqueológicas, os Textos de Execração egípcios mencionam, para este período, apenas dois centros nas montanhas de Canaã: Siquém e Jerusalém.
Uma inscrição egípcia do século XIX AEC, falando das ações de um general egípcio chamado Khu-Sebek na região montanhosa de Canaã, menciona a 'terra', e não a cidade, de Siquém em paralelo com Retenu (um dos nomes egípcios para Canaã). No Bronze Recente, as Cartas de Tell el-Amarna, do século XIV AEC, indicam duas cidades líderes na região das montanhas: Siquém e Jerusalém.
Assim, Siquém e Jerusalém, Israel e Judá, parecem ter sido sempre dois territórios distintos e rivais, concluem os autores.
Norte e sul possuem, de fato, dois ecossistemas bem diferentes sob qualquer aspecto: topografia, formação rochosa, clima, vegetação e potencial econômico. O sul é mais isolado por barreiras topográficas, enquanto que o norte possui vales férteis com maior potencial econômico. O maior desenvolvimento do norte pode ter proporcionado o surgimento de instituições econômicas mais complexas, levando ao surgimento de instituições políticas mais sofisticadas, nascendo daí um 'Estado'.
"A evolução das colinas de Canaã em duas distintas entidades políticas foi um desenvolvimento natural. Não há evidência arqueológica em lugar algum de que esta situação de norte e sul tenha surgido de uma anterior unidade política - muito menos de uma localizada no sul", dizem os autores na p. 158.
Judá, nos séculos X e IX AEC, era pastoril e pouco significativo. Jerusalém era um pequeno povoado na época de Salomão e Roboão, enquanto que o norte já era mais populoso e desenvolvido. Israel (do norte) já era um Estado no século IX AEC, enquanto que a sociedade e economia de Judá pouco tinham mudado desde suas origens nas montanhas.
Sem dúvida, Israel e Judá da Idade do Ferro tinham muito em comum: ambos cultuavam Iahweh (além de outros deuses) e seus povos partilhavam muitas estórias sobre um passado comum. Falavam línguas semelhantes, ou dialetos do hebraico, e, por volta do século VIII AEC, partilhavam da mesma escrita. Mas experimentaram diferentes histórias e desenvolveram culturas distintas, sendo Israel mais desenvolvido do que Judá.
O norte pode ter se desenvolvido mais do que o sul, mas não era tão próspero e urbanizado como as cidades-estado cananéias das planícies e da região costeira. Foi a derrocada destas cidades na Idade Antiga do Bronze - quer tenha sido causada pelos Povos do Mar, ou por rivalidades entre elas ou, ainda, por desordens sociais - que possibilitou a sua independência.
Mas no século XI AEC houve nova onda de prosperidade nas regiões das planícies: filisteus na costa sul e fenícios na norte. Meguido é um bom exemplo deste processo. Entretanto, este renascimento durou pouco: o faraó Shishaq (ou Sheshonq, nas inscrições egípcias), fundador da Décima Segunda Dinastia, fez agressivo ataque, no final do século X AEC, à região: Meguido, Taanach, Rehov e Bet-Shean, no vale de Jezreel, foram alvos das forças egípcias. Embora os motivos e detalhes desta destruição sejam problemas não respondidos até hoje... Mas isto tem importantes implicações: abriu caminho para a ocupação israelita do Vale de Jezreel...
Entretanto: por que a Bíblia narra tudo diferente, surgindo Israel (do norte) de uma ruptura com Judá? A resposta está em quatro profecias ligadas pela narrativa bíblica à queda da monarquia unida: Salomão como responsável pela quebra da unidade (1Rs 11,4-13); Jeroboão como 'herdeiro do norte, segundo o profeta Aías de Silo (1Rs 11,31-39); Jeroboão recebendo, em Betel, a profecia de "um homem de Deus" sobre Josias que destruirá o altar de Betel (1Rs 13,1-2); Aías de Silo falando à esposa de Jeroboão do extermínio de sua dinastia e do exílio de Israel (1Rs 14,7-16). O argumento de Finkelstein e Silberman aqui pareceu-me meio "circular" e pouco convincente...
Entretanto, segundo eles, a inevitabilidade da queda de Israel e o triunfo de Josias tornou-se um tema central para o redator deuteronomista no século VII AEC. Betel, a ameaça ao santuário de Jerusalém, cai sob Josias...
O historiador deuteronomista transmite ao leitor a seguinte mensagem, segundo os autores, na p. 167: "De um lado ele descreve Judá e Israel como Estados irmãos; de outro lado, ele mostra forte antagonismo entre eles. Era ambição de Josias expandir-se para o norte e tomar posse dos territórios montanhosos que outrora pertenceram ao reino do norte. Assim, a Bíblia legitima esta ambição, explicando que o reino do norte se estabelecera sobre os territórios da mítica monarquia unida, que fora governada a partir de Jerusalém; que havia um reino israelita irmão; que sua população era composta de israelitas que haviam prestado culto em Jerusalém; que os israelitas ainda vivendo nestes territórios deveriam voltar seus olhos para Jerusalém; e que Josias, o herdeiro do trono davídico e da promessa eterna feita a Davi, era o único legítimo herdeiro dos territórios do vencido Israel. Por outro lado, os autores da Bíblia precisavam deslegitimar o culto do norte - especialmente o santuário de Betel - e mostrar que as típicas tradições religiosas do reino do norte eram todas más, que elas deveriam ser eliminadas e substituídas pelo culto centralizado no Templo de Jerusalém".
segunda-feira, 8 de junho de 2009
segunda-feira, 1 de junho de 2009
Mitos
http://www.pauloliveira.com/MySiteOLD/Zigurate/Zigurates.htm
Na Terra dos Zigurates
Mitos sumérios na raiz de episódios bíblicos
Na Terra dos Zigurates
Mitos sumérios na raiz de episódios bíblicos
Assinar:
Postagens (Atom)